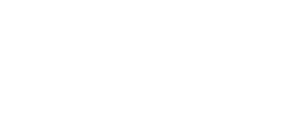Ao tratar dos impostos e das contribuições para a seguridade social, a Constituição de 1988 — ao contrário do que fez quanto às demais figuras tributárias[1], em que isto ocorre apenas por exceção — optou pela indicação precisa dos respectivos fatos geradores (artigos 153, 155, 156 e 195, incisos I a IV).
Tal opção impõe ao intérprete a premissa de que os conceitos utilizados nas regras constitucionais de competência têm um sentido unívoco, que deve ser buscado nos ramos jurídicos de que provêm (propriedade no Direito Civil, mercadoria no Direito Empresarial[2]) ou, quando este não seja o caso, em outros campos do conhecimento (renda e grandes fortunas na Economia) ou no próprio Direito Tributário pré-constitucional (faturamento).
A tese contrária — de que o legislador e o Fisco podem interpretar como queiram as normas que delimitam o seu próprio poder —, além de paradoxal, anula todo o esforço de discriminação feito pelo constituinte, condenando à inutilidade, contra o cânone hermenêutico, largo trecho da Constituição.
Donde se concluir que, ainda que instituídos na máxima extensão possível todos os impostos e todas as contribuições para a seguridade, muitas manifestações de capacidade contributiva restarão intributadas. Basta pensar na propriedade de imóveis no exterior ou de obras de alto valor artístico.
É dizer: a decisão sobre a incidência ou não incidência de um tributo rege-se pelo critério de estrita subsunção (primeiro se qualificam juridicamente os fatos em análise, e depois se verifica se há coincidência entre essa qualificação e o conceito posto na hipótese da regra impositiva), e não por juízos de exclusão (“se não incide IOF, então incide ISS” — o que é o mesmo que afirmar que “toda atividade não sujeita ao IOF é um serviço”…) ou de justiça comparativa (“é injusto que o setor X não pague o tributo Y, que todos os outros pagam”).
Eventuais zonas de não tributação são efeitos colaterais da técnica de atribuição de competências eleita pelo constituinte, e devem ser solucionadas, não pela dilatação forçada dos conceitos constitucionais, mas por mecanismo previdentemente concebido por aquele: a competência residual para a instituição de impostos e de contribuições para a seguridade social (artigos 154, inciso I, e 195, parágrafo 4º).
A jurisprudência do STF, sob a inspirada condução do Ministro Marco Aurélio, tem sido rigorosa no sentido que vimos de expor, como se nota nos julgamentos relativos (a) à não-incidência da antiga contribuição social sobre a folha de salários na remuneração de avulsos, autônomos e administradores[3], (b) à inexigibilidade de IR-fonte sobre dividendos não distribuídos[4], (c) à estraneidade da locação de bens móveis ao ISS[5] ou (d) à invalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins pelo artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718/98[6].
A Corte desviou-se desta trilha segura em 2010, ao validar a exigência de ISS sobre o leasing financeiro[7], aos fundamentos de que a arrendadora, (i) por adquirir o bem junto ao fornecedor para cedê-lo ao arrendatário, atua como intermediária entre ambos (o que não nos parece exato, pois aquela nada faz para estimular o negócio, limitando-se, quando demandada, a financiá-lo por esta forma específica), e (ii) não se sujeita ao IOF, ao contrário das demais instituições financeiras (como se isso bastasse para qualificar de serviço a atividade por ela desenvolvida).
Num futuro próximo, o STF terá de decidir entre retornar àquele leito sereno ou pôr abaixo, a bem da arrecadação, os diques que contêm as pretensões tributárias do Estado.
Estamos a falar do Recurso Extraordinário 609.096/RS, afetado ao regime da repercussão geral, no qual se debate se as receitas de intermediação financeira obtidas pelas instituições financeiras se submetem ao PIS e à Cofins.
Tudo consiste em saber se estas receitas se encaixam na noção de faturamento, pois esta é a base de cálculo que sobra na Lei 9.718/98 — matriz das contribuições para tais empresas[8] — após a anulação e a posterior revogação do artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718/98 (esta última, pela Lei 11.941/2009).
Pois bem: a resenha histórica das duas contribuições deixa claro que — exceção feita a este comando natimorto — a legislação tributária brasileira nunca incluiu as receitas de intermediação financeira no conceito de faturamento.
A evolução começa na Lei Complementar 7/70, que determinava o cálculo do PIS com base no “faturamento” do sexto mês anterior para as empresas em geral (artigos 3º, alínea “b”, e 6º, parágrafo único), mas exigia-o das instituições financeiras sob a forma de adicional do imposto sobre a renda (parágrafo 2º)[9].
Segue-se o Decreto-lei 1.940/82, instituidor do Finsocial (o antecessor da Cofins), que onerava as instituições financeiras, mas tomava por base a sua “receita bruta”, não aludindo a faturamento (artigo 1º, parágrafo 1º).
A base de cálculo do Finsocial foi alterada pelo Decreto-lei 2.397/87, passando a ser (a) “a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços” para as empresas em geral; (b) “as rendas e receitas operacionais das instituições financeiras”, admitidas certas deduções, e (c) as “receitas operacionais e patrimoniais das sociedades seguradoras” (artigo 1º, parágrafo 1º, alíneas “a” a “c”). Novamente, nada de faturamento para as duas últimas categorias.
Seguiram-se, na ordem cronológica, os Decretos-leis 2.445 e 2.448/89, referentes ao PIS, que falavam em “receita operacional bruta” para as empresas em geral — inclusive as instituições financeiras —, como tal entendido “o somatório das receitas que dão origem ao lucro operacional, na forma da legislação do imposto de renda”, admitidas certas exclusões e deduções (artigo 1º, inciso V e parágrafo 2º, especialmente a alínea “d”). Os diplomas foram anulados pelo STF[10].
A Constituição de 1988 recepcionou ambos os gravames tais como os encontrou (artigos 239 do corpo permanente e 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).
A primeira inovação sob o regime constitucional de 1988 veio com o artigo 28 da Lei 7.738/89, que fixou o Finsocial das empresas exclusivamente prestadoras de serviços em 0,5% da sua “receita bruta”.
Essa base de cálculo foi convalidada pelo STF[11], que, para tanto, a reduziu à noção de faturamento do artigo 195, I, da Constituição (por sua vez retirada do artigo 1º, parágrafo 1º, alínea “a”, do Decreto-lei 1.940/82, na redação do Decreto-lei 2.397/87): receita bruta das vendas de mercadorias e/ou serviços.
O que a Corte fez, portanto, foi reduzir o conceito de “receita bruta” ao de “faturamento”, nunca tendo declarado a coincidência entre ambos, situação na qual o mencionado artigo 28 não teria sido objeto de interpretação conforme à Constituição — que é forma de declaração de inconstitucionalidade parcial —, mas de declaração de constitucionalidade tout court.
Prosseguindo na resenha legislativa, chega-se à Lei Complementar 70/91, que instituiu a Cofins “sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza” (artigo 2º).
A não incidência da contribuição sobre as instituições financeiras não constava dos artigos 6º e 7º da lei, dedicados à concessão de isenções, mas de comando específico que aludia a “exclusão” (artigo 11, parágrafo único), tudo a reforçar a irredutibilidade das receitas de intermediação financeira à ideia de faturamento.
A Emenda Constitucional de Revisão 1/94 e as Emendas Constitucionais 10/96 e 17/97 criaram o Fundo Social de Emergência (depois Fundo de Estabilização Fiscal), que vigeu até dezembro de 1999, destinando-lhe, dentre outras, a receita do PIS das instituições financeiras, que nesse período passou a ser de 0,75%[12] sobre a sua “receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto de renda” (ADCT, artigo 72, inciso V).
A Lei 9.715/98, resultante da conversão da Medida Provisória 1.212/95 e reedições (inaplicável instituições financeiras – artigo 12), alterava a base de cálculo do PIS para o “faturamento do mês” (e não mais do sexto mês anterior), definindo-o como “a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia”.
A resenha encerra-se na Lei 9.718/98[13], cujo artigo 3º, parágrafo 1º foi o único comando a jamais equiparar as receitas de intermediação financeira (com as exclusões e deduções autorizadas nos parágrafos 5º e 6º) a faturamento.
Afirmar, depois de anulada e revogada a regra que inovadoramente a empreendeu, que tal equiparação permaneceria aceitável é reinterpretar de forma oportunista conceito que sempre foi utilizado de forma coerente pelo legislador e que foi guindado ao nível constitucional em 1988, como reconhecido pelo STF no RE 390.840/MG e como decorre de outras manifestações do constituinte, tais o artigo 195, inciso III (a fonte autônoma “receita de concursos de prognósticos” seria despicienda, caso as entidades que os promovem – embora não vendam mercadorias ou serviços – tivessem faturamento, pois a incidência da contribuição estaria respaldada nesta cláusula) e do próprio artigo 195, inciso I, alínea “b”, na redação da Emenda Constitucional 20/98 (que teria sido inútil se faturamento e receita fossem mesmo sinônimos).
É, noutras palavras, passar por cima da decisão do STF que se diz interpretar, pois este, no leading case em exame, de nenhuma forma redefiniu faturamento — para equipará-lo a todas as receitas operacionais (caso em que a conclusão teria sido pela validade do artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718/98) —, tendo ao contrário baseado a sua conclusão no sentido tradicional do termo.
Nem calha — em outro artifício para buscar o mesmo objetivo — dizer que a receita de intermediação financeira constitui faturamento por decorrer da prestação de serviço.
Ao contratar um financiamento, o mutuário visa exclusivamente ao recebimento de um bem (o dinheiro), que devolverá ao fim de certo tempo, acrescido de uma remuneração (os juros). Toda a atuação do mutuante consiste em decidir sobre a concessão ou não do empréstimo, o que faz em seu próprio interesse, e em entregar os recursos. A essência está no dare, e não no facere, o que afasta a caracterização da atividade como serviço, a teor da jurisprudência tradicional do Supremo.
Tanto assim que esta é sujeita ao IOF (sequer teria cabimento aqui a escusa relativa à não incidência deste imposto, invocada no precedente relativo ao leasing financeiro), e não ao ISS.
Nem impressionam equiparações ad hoc das atividades financeiras a serviços, como as empreendidas pelo tratado do GATS (General Agreement on Trade in Services) ou pelo Código de Defesa do Consumidor.
O primeiro, promulgado no Brasil pelo Decreto 1.355/94, é expresso em seu Anexo V ao afirmar que a definição de serviços vale para os fins daquele tratado, que se ligam à promoção da livre concorrência em escala global, nada tendo que ver com a tributação de operações puramente internas de cada país.
O segundo (artigo 3º, parágrafo 2º) visa a submeter as instituições financeiras às regras gerais de proteção ao consumidor, tanto que a discussão que antecedeu a declaração de sua constitucionalidade[14] versou essencialmente sobre a extensão das competências deferidas ao Conselho Monetário Nacional pelo artigo 192, incisos II e IV, da Constituição, sequer resvalando – salvo no voto vencido do Ministro Nelson Jobim, que antes o reafirmava do que o modificava – na noção constitucional de serviços.
O Direito é feito de conceitos, de sorte que a segurança jurídica corresponder em boa medida à estabilidade daqueles. Não que eles não possam evoluir, mas devem fazê-lo pelas vias institucionais próprias e sempre com efeitos ex nunc. Que 2014 transcorra sob o signo da segurança, no mais trazendo saúde e prosperidade para todos.