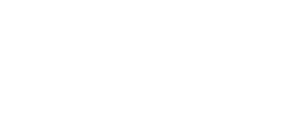Por Rafael Tomaz de Oliveira – (Diário de Classe – Conjur)
Dentre as diversas possibilidades teóricas disponíveis para o enfrentamento das questões jurídicas na contemporaneidade, o chamado pós-positivismo apresenta-se, certamente, com ares de protagonista. E não estou afirmando isso a partir de uma constatação quantitativa que permita apontar para um maior número de adeptos para esse filão da teoria do direito. O que sustenta a afirmação acerca do protagonismo de uma tal vertente teórica é o espaço por ela ocupado nos debates que mobilizam a teoria do direito no contexto atual. Mesmo entre aqueles que sustentem a impertinência teórica de um movimento pós-positivista, a questão aparece ventilada, ainda que na forma da negação. Daí que, mesmo sem ser unanimidade, o pós-positivismotem um quê de “bola da vez”.
O fato de se apresentar como tema da moda tem lá seus problemas.
O mais grave, certamente, diz respeito à banalização terminológica: o uso em excesso do termo promove uma tal elasticidade em seu campo semântico de significações que, ao final, qualquer postura teórica que se apresente de forma crítica com relação ao positivismo, acaba sendo chamada de pós-positivista. Há uma necessidade premente de se realizar uma limpeza na poluição semântica que cerca esta expressão.
Principiemos, então, por dizer que o pós-positivismo não representa uma proposta teórica que simplesmente critique o positivismo ou algumas de suas teses. Na verdade, o pós-positivismo ataca o cerne da questão, procurando operar com um conceito de direito que não é o conceito de direito que prevalece entre os teóricos do positivismo jurídico. E também não se aproxima do conceito de direito pregado pelos jusnaturalistas. No caso do pós-positivismo, estamos mesmo diante de uma terceira via.
Para o pós-positivismo a essência do direito não é dada por alguma realidade transcendente, nem tampouco algo posto por alguma instância da Razão. A “essência” do direito é ser constantemente construído, a partir de uma empreitada argumentativa. O direito é, portanto, um “conceito interpretativo”.[1]
Segundo Friedrich Müller, o termo pós-positivismo não se refere a um antipositivismo qualquer, mas uma postura teórica que, sabedora do problema não enfrentado pelo positivismo – qual seja: a questão interpretativa concreta, espaço da chamada “discricionariedade judicial” – procura apresentar perspectivas teóricas e práticas que ofereçam soluções para o problema da concretização do direito, e não para problemas abstrato-sistemáticos apenas. Aliás, registre-se que o termo pós-positivismo foi utilizado –de uma maneira expressa e com pretensões concretas – por Müller já na primeira edição de seu Juristische Methodik em 1971.[2]
De fato, a segunda metade do século XX representa para o direito uma revolução nos níveis teórico e prático. No nível teórico, a necessidade do reconhecimento de uma especificidade do direito frente a política — em face dos movimentos que levaram aos totalitarismo da primeira metade do século — desloca o foco metodológico em direção à decisão judicial, algo que garante uma autonomia maior do que a velha postura formal decorrente de uma pura teoria da legislação, recorrente no imaginário jurídico desde os movimentos que sucederam a revolução francesa e o posterior período codificador. No nível prático, tento em vista o espaço de reflexão colocado no âmbito da decisão judicial, as questões sobre interpretação passaram a ocupar o centro das atenções.
Diferentemente das teorias positivistas, as posturas teóricas que se desenvolvem neste contexto procuram afirmar a radicalidade de uma espécie de “elemento antropológico” que atravessa toda a experiência hermenêutica e que era desconsiderado pelo positivismo. Isso em virtude do predomínio das questões teórico-abstratas e da configuração da interpretação como mero voluntarismo do órgão aplicador da norma[3]. Diante do enigma que o elemento antropológico manifesta – de maneira sintomática – na experiência hermenêutica, o positivismo foge em direção à investigação teórica, suprimindo, consequentemente, a praxis de sua esfera de preocupações: o direito é pensado como um sistema de normas e a tarefa do jurista é ordenar, segundo os rigores da lógica, este sistema de modo coerente e racional. Mas essa ordenação deve se dar primeiro num plano abstrato, num nível de conhecimento, para somente depois se voltar para os problemas da aplicação do direito. O enigma que o elemento antropológico acarreta aqui é precisamente este: que tipo de conhecimento é a interpretação? É possível desenvolver interpretações in abstracto desconsiderando as especificidades particularíssimas do caso concreto, ou seja, dos fatos?
Também quanto a aplicação propriamente dita, as teorias positivistas da primeira metade do século passado — conscientes da polissemia inerente a toda texto jurídico — passaram a afirmar uma espécie de espaço de discricionariedade daquele que aplica a norma à situação concreta da vida. Com efeito, como a aplicação sequer era pensada como um problema hermenêutico, este último se vinculava estritamente aos problemas interpretativos, as teorias positivistas, para afirmar a especificidade e autonomia do direito frente a política, passaram a realizar uma cisão entre interpretação como ato de conhecimento e interpretação como ato de vontade. Toda norma jurídica possui um espaço moldural que o aplicador deve preencher com sua interpretação — e de acordo com sua vontade — no momento da aplicação da norma. Nessa medida, a interpretação do juiz pode ser criticada pela dogmática e pela ciência do direito, mas de maneira alguma poderá ser o órgão aplicador da norma declarado desobediente, uma vez que a interpretação do direito é um ato de vontade – portanto uma questão de filosofia prática – que não pode ser apreendida no nível teórico puro, onde se desempenha uma interpretação como ato de conhecimento[4].
Esse ponto, em específico, é enfrentado pela Crítica Hermenêutica do Direito, de Lenio Streck. Com efeito, a partir de uma imbricação entre a Hermenêutica Filosófica e a teoria integrativa do direito, Streck critica a cisão entre razão e vontade colocando na linha de frente o elemento antropológico que aparece no subterrâneo do problema hermenêutico.
Diante deste quadro geral, as posturas teóricas pós-positivistas procuram enfrentar este elemento antropológico a partir do desenvolvimento de teorias interpretativas do jurídico que possuem, no momento da decisão – portanto, no momento aplicativo – o seu ponto de estofo. Pode-se dizer, portanto, que há uma espécie de radicalização hermenêutica por parte de diversas teorias que se desenvolvem no contexto cultural do pós-guerra e que atravessa toda segunda metade do século passado[5]. Essa radicalização da hermenêutica trás consigo a necessidade se estudar, não apenas as peculiaridades da interpretação jurídica, mas também o próprio desenvolvimento da hermenêutica durante o século XX. Autores como Ernildo Stein falam deste período da filosofia contemporânea como a “era da hermenêutica”[6], a partir da qual a hermenêutica foi alçada, de mera disciplina auxiliar das ciências do espírito (Schliermacher/Dilthey) para condição de Filosofia, fundamentada na existência e sendo percebida em seus vínculos (antropológicos) com a praxis (Heidegger/Gadamer).
Acontece que, desde o século XIX, as discussões metodológicas e interpretativas sobre o direito articulam a hermenêutica no sentido de uma disciplina jurídica auxiliar, que tem por finalidade esclarecer as obscuridades das leis para aprimorar, através de uma interpretação teórica, o processo de aplicação do direito. A interpretação é vista aqui, portanto, como uma tarefa abstrata que antecede o momento prático aplicativo. De se ressaltar que, no interior deste entendimento, solvidas as questões teórico-interpretativas por meio dos vetustos métodos de interpretação – desenvolvidos ainda no seio do paradoxal historicismo alemão pelo gênio de Savigny – a aplicação do direito se daria de forma neutra e imparcial, ainda que, nos casos de lacuna, fosse utilizada a aplicação analógica de outro dispositivo intrassistêmico.
Como a teoria hermenêutica desenvolvida no decorrer do século XX aproximou seu âmbito de reflexão da dimensão prática — a partir da afirmação da compreensão existencial que o homem pressupõe de si mesmo nas suas relações com as coisas e com o mundo que, por sua vez, já estão acompanhadas por uma pré-compreensão em virtude da antecipação de sentido que incorpora o modo prático do ser humano ser-no-mundo — as questões jurídicas fundamentais da interpretação, da aplicação e da fundamentação, precisam ser (re)colocadas sob estas novas perspectivas, para que seja possível uma “correção” ontológica no modo como a interpretação jurídica é desenvolvida tradicionalmente.
A ausência deste questionamento radical torna os resultados de uma teoria pós-positivista, preocupada com a indeterminação do direito e com o problema prático da decisão judicial, precários e em grande medida duvidosos. Mas essa aproximação da hermenêutica com a práxis (no sentido aristotélico da phrónesis) só será compreendida na medida em que as sedimentações que a linguagem jurídica produziu puderem ser removidas. Assim, nos quadros do chamado pós-positivismo, o conceito de direito é determinado a partir do inexorável elemento hermenêutico que acompanha a experiência jurídica. O que unifica as diversas posturas que podem ser chamadas de pós-positivistas é que o direito é analisado na perspectiva da sua interpretação ou da sua concretização. Fora disso, a critica ao positivismo se perde no fugas. Fora disso, uma eventual oposição ao positivismo pode até ser tida como antipositivista ou não positivista. Porém, de forma alguma poderá ser nomeada como pós-positivismo.