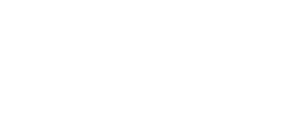![Eurico de Santi e Isaias Coelho - 8/1/2014 [Spacca]](http://s.conjur.com.br/img/b/eurico-santi-isaias-coelho-81201.png) Não bastasse o desafio de ter de encontrar o próprio caminho em um oceano de mais de 4,6 milhões de normas editadas desde 1988, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário — clique aqui para ler —, o contribuinte brasileiro é responsável por informar ao Fisco o quanto deve e o quanto paga em tributos. Se errar, é autuado e multado. A piada de mau gosto é que boa parte da interpretação do Fisco quanto às regras tributárias, que poderiam guiar as empresas sobre o que se deve e o que não se deve fazer, é sigilosa. Julgamentos de primeira instância não podem ter a presença de advogados e de partes. E autos de infração só são franqueados a quem é fiscalizado.
Não bastasse o desafio de ter de encontrar o próprio caminho em um oceano de mais de 4,6 milhões de normas editadas desde 1988, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário — clique aqui para ler —, o contribuinte brasileiro é responsável por informar ao Fisco o quanto deve e o quanto paga em tributos. Se errar, é autuado e multado. A piada de mau gosto é que boa parte da interpretação do Fisco quanto às regras tributárias, que poderiam guiar as empresas sobre o que se deve e o que não se deve fazer, é sigilosa. Julgamentos de primeira instância não podem ter a presença de advogados e de partes. E autos de infração só são franqueados a quem é fiscalizado.
Segundo os professores Isaias Coelho e Eurico de Santi, da Fundação Getulio Vargas de São Paulo, o princípio da transparência ao qual poder público vem aderindo nos últimos anos ainda está longe de chegar à administração tributária, o que provoca uma reação em cadeia. Por isso, se engajaram na batalha pela divulgação dos autos de infração e assistem com interesse a batalha judicial da seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil para que os julgamentos administrativos de primeira instância da Receita Federal sejam públicos.
Eles afirmam que é justamente por não conhecer a interpretação da fiscalização que o contribuinte faz planejamentos tributários complexos a fim de reduzir custos. Muitos desses planejamentos são considerados abusivos depois de anos de discussão e fortunas gastas com contencioso.
Responsáveis pelo Núcleo de Estudos Fiscais (NEF) da Escola de Direito da FGV, espécie de think tank tributário que reúne semanalmente alunos de mestrado e doutorado e membros da administração pública, Santi e Coelho idealizaram o Índice de Transparência e Cidadania Fiscal, pelo qual quantificam e qualificam o acesso que os fiscos federal, estaduais e municipais dão às informações de que dispõem. O ranking está em sua segunda edição e já provocou mudanças na rotina de algumas Fazendas estaduais.
Eles receberam a revista eletrônica Consultor Jurídico na sede do NEF para uma entrevista que durou cerca de duas horas e passou por temas tributários, econômicos e financeiros, incluindo guerra fiscal, tributação sobre empresas estrangeiras coligadas e controladas por brasileiras e critérios para classificação de insumos no cálculo do PIS e da Cofins.
Isaias Coelho é professor na Direito GV e coordenador de pesquisa do NEF. Consultor de várias organizações, inclusive do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), já foi chefe da divisão de política tributária da instituição, pela qual orientou reformas tributárias em mais de 30 países. Foi secretário adjunto da Receita Federal e assessor no Ministério da Fazenda. É doutor em Economia e Finanças Públicas pela University of Rochester, de Nova York.
Eurico Marcos Diniz de Santi é doutor em Direito Tributário pela PUC-SP, professor da Direito GV e coordenador geral do NEF. Foi ainda juiz do Tribunal de Impostos e Taxas do estado de São Paulo e participou da fundação de outra entidade tributária de renome, o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, juntamente com o professor Paulo de Barros Carvalho. Em 2008, ganhou o prêmio Jabuti pela obra Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas.
Leia a entrevista:
ConJur — Chegou aos tribunais, por meio de ações da OAB, a discussão sobre os julgamentos administrativos a portas fechadas na primeira instância da Receita Federal. Há anos o Núcleo de Estudos Fiscais defende a transparência dessas sessões e das decisões, que embora sejam colegiadas, não têm a presença de advogados ou partes. Levando-se em conta que, de um lado, o Fisco tem brigado para manter o segredo inclusive com pedidos de Suspensão de Segurança, e que, de outro, alguns advogados temem que essa abertura possa comprometer o sigilo fiscal, há perspectiva de que isso mude?
Eurico de Santi — Os advogados são favoráveis à divulgação de julgamentos da primeira instância. Cada vez mais percebo que falta informação e reflexão sobre essa matéria. Mas vejo que ganhamos espaço. Recentemente estive na Associação dos Fiscais do Estado de São Paulo, com a presença do presidente e de dois diretores, defendendo a abertura dos autos de infração. Acredito que eles ficaram convencidos de que a abertura pública dos autos de infração lavrados contra contribuintes é benéfica. O principal argumento, que também diz respeito à divulgação das decisões de primeira instância, é que, por ser provisório, o auto de infração não pode ser divulgado até que haja uma decisão definitiva. Mas, na verdade, o sigilo oculta justamente erros da administração pública, com autos mal lavrados, sem critério e de má qualidade.
ConJur — E quem não contesta, paga por esses erros.
Eurico de Santi — Isso é fruto do costume de, na dúvida, lavrar o auto de infração para ver no que vai dar. É preciso entender que um auto de infração que fomenta o contencioso gera insegurança jurídica e ilegalidade. E é preciso uma decisão de segunda instância para garantir a estabilidade do auto de infração, outra decisão terá de encobrir a má qualidade do auto de infração. Joga-se contra a própria administração. Quando o funcionário público se dá conta disso, começa a perceber a importância da transparência como voz da legalidade.
ConJur — A Lei de Acesso à Informação aumentou o debate sobre a transparência nas fiscalizações?
Eurico de Santi — A primeira lei de acesso à informação surgiu no século XVIII, na Suécia, para defender a transparência como instrumento da liberdade de expressão do servidor público do Estado. Ou seja, o servidor manifesta sua voz deliberando sobre assuntos do Estado e, por isso, tem de ser protegido pela estabilidade funcional contra os agentes de governo. Ele tem de poder se comunicar com a população. A transparência surge como instrumento desse funcionário em face dos interesses de governo, permitindo que ele diga: “O governo está querendo me obrigar a arrecadar, mas estou aqui para aplicar a lei”. Mencionamos isso em artigo publicado na ConJur — clique aqui para ler. Os advogados também percebem a importância dessa legalidade e estabilidade, tanto que há um movimento nesse sentido. A OAB do Rio entrou com uma ação judicial contra a Receita Federal, pedindo acesso às decisões de primeira instância e que o advogado participe dessas sessões também.
ConJur — Vocês não participaram dessa ação, mas creem ter sido influenciada pela mensagem defendida pelo NEF?
Eurico de Santi — Foi uma iniciativa deles. Ninguém conversou conosco, mas isso está relacionado, de alguma forma, com essa linha de pensamento. A própria Receita Federal também vem se apropriando disso. Um exemplo emblemático é a situação da tributação das empresas estrangeiras controladas ou coligadas a brasileiras. Há uma série sucessiva de fracassos da implantação da legalidade. Em 1995, houve uma lei do Imposto sobre a Renda que tentou implantar as bases universais, insistindo que o momento da tributação era o do registro dos lucros no exterior. Ela caiu, porque era contrária ao Código Tributário Nacional, que diz que o lucro deve ser tributado quando se torna disponível aos sócios no Brasil, ou seja, quando entra no país. Então, essa posição foi reformulada pela Instrução Normativa 38, em 1997. Depois, foi positivada em lei, que disse que só a disponibilização efetiva podia ser tributada, de acordo com o CTN. Então, modificaram o CTN. E criaram a Medida Provisória 2.158-35, com seu artigo 74 e, desde 2001, discute-se se ela é constitucional ou não. No Supremo, o debate empatou em 5 a 5, e o ministro Joaquim Barbosa, em seu voto de desempate, acertou a trave, não resolvendo a questão. Ou seja, estamos há 10 anos com um contencioso de R$ 70 bilhões sobre o qual não sabemos a resposta quanto à legalidade de uma cobrança. Não se resolve a questão e induz-se a um contencioso monumental — porque o contencioso é hedge, é mercado futuro. Eu preciso entrar no contencioso para garantir minha posição no futuro. Todo mundo teve que entrar com a ação para garantir sua posição.
ConJur — Esse é um exemplo de como a maioria das questões tributárias deixadas para a Justiça resolver termina em decisão que desagrada ambos os lados, e ressalta a importância dos conselhos administrativos?
Isaías Coelho — As opiniões são divergentes. Há quem defenda a especialização do Judiciário. No Brasil, seguimos essa linha desde Getúlio Vargas. Temos tribunal militar e do Trabalho. Poderíamos ter um tribunal tributário. Acho que há certa lógica em especializar as primeiras instâncias, porque, para as pequenas causas, que têm muita semelhança entre elas, um tribunal especializado faz sentido. O tribunal trabalhista lida com os mesmos trâmites, por exemplo. Mas não sei se essa especialização deveria ir até o topo da pirâmide. O Supremo deveria ser um tribunal constitucional, somente para as grandes causas, que se projetam sobre todos os tipos de direito. Ele deve julgar até com certa dimensão política, porque resolve também os impasses que o sistema democrático cria. Em minha opinião, empatar a questão da tributação das controladas do exterior nos prestou um grande serviço, porque nos obrigou a repensar o assunto e achar uma solução, que é o que está ocorrendo agora, tentando-se fazer uma reformulação e refinanciar o pagamento de passivos passados. O Supremo se deu conta de que, tanto dando ganha de causa a grandes empresas que entraram na Justiça contra essa tributação no exterior, quanto ao Fisco plenamente, essa decisão não corresponderia ao melhor interesse do país. Na prática, foi como se dissesse: “Resolvam esse problema. Nós estamos com a ‘espada de Dâmocles’ aqui e ela pode causar um estrago”. Da mesma forma, o Supremo vem mantendo na corda bamba a questão dos incentivos fiscais do ICMS. A proposta de publicação de súmula vinculante sobre o que fazer com incentivos já concedidos sem a aprovação do Confaz [Conselho Nacional de Política Fazendária] obriga os políticos a correr para resolver o problema. O país parou em decorrência da enorme insegurança, inclusive pela ameaça de que as empresas tenham que devolver os bilhões que economizaram com esses benefícios. Hoje, não se sabe se os incentivos dão alguma coisa ou só uma dívida futura. O Supremo está dizendo: “A qualquer momento eu posso baixar uma ordem. Vocês que se entendam”. Porque qualquer entendimento que for feito será melhor do que essa súmula. Ou seja, quando o Legislativo não exerce sua função, quando o governo não tem liderança e eterniza o impasse, o Supremo age como um árbitro e, mais do que simplesmente julgar o direito objetivo, dá uma sinalização política.
ConJur — E uma solução política pode consertar os estragos passados, que a Justiça não pode?
Eurico de Santi — Há um paradoxo aí. Há uma espécie de corrupção sistêmica do que diz respeito aos imperativos da legalidade. O que sobra para o Supremo já não é mais uma decisão jurídica a ser dada, mas um “pepino”, um problema imenso, de R$ 70 bilhões, no caso da tributação de empresas no exterior, e outro passivo enorme resultante da guerra fiscal do ICMS. Eles decorrem da omissão de uma regra legal. Desde o primeiro incentivo fiscal concedido deveria ter sido aplicada a lei de forma definitiva, alguém deveria ter lembrado que a Lei Complementar 24/1975 proíbe dar incentivo sem a concordância do Confaz. Se isso tivesse ocorrido, poderíamos ter uma resposta com base na legalidade. Mas o que é problemático é que existe uma omissão sistemática na legalidade, seja em razão da lentidão do processo contencioso, seja em razão do sigilo que encoberta falhas administrativas e incoerências internas. Isso deixa de ser uma questão legal para se tornar uma questão política. É uma bomba-relógio. E o Supremo não tem respostas. O que costuma vir daí? Os regimes de parcelamento, os chamados “Refis”. E isso incomoda a Receita Federal, porque ela trabalha com a necessidade de legalidade.
ConJur — O Supremo errou?
Isaías Coelho — Não é que o Supremo tenha falhado em não saber se há legalidade. Pelo contrário. O Supremo decidiu múltiplas vezes sobre a inconstitucionalidade dos incentivos e cancelou inúmeras leis fiscais. Só que essa é uma hidra, da qual se corta uma cabeça e nascem outras duas no lugar. Os estados cancelam a lei considerada inconstitucional e, na mesma sessão legislativa, criam outro incentivo, porque não se condenou a prática, mas a lei.
ConJur — Como acabar com essa prática?
Isaías Coelho — O mais eficiente é o que fizeram os procuradores do Distrito Federal, que entraram com ação contra as empresas que se beneficiaram dos incentivos inconstitucionais para que pagassem o ICMS retroativo com acréscimos. Quando as empresas, que são as interessadas nesse tipo de vantagem, perdem com ela, acaba a graça e o sistema termina.
ConJur — A empresa não faz a lei. Ao se beneficiar de uma lei, mesmo que essa lei seja inconstitucional, deve pagar por cumpri-la?
Isaías Coelho — Isso é complicado, porque existe um sistema de incentivos muito mais sofisticado. É quando não existe uma lei de incentivo direto, mas uma porta dos fundos pela qual a empresa recebe de volta boa parte do imposto integral que pagou. Pode ser um financiamento de longo prazo concedido pelo estado com taxas beneficiadas, por exemplo. Ou empréstimos de curto prazo cujos títulos públicos são resgatáveis por meio de leilões, com pagamento de valor simbólico. Não chega nem a sair dinheiro do erário porque os financiamentos e empréstimos são concedidos pelo banco de desenvolvimento do estado. A empresa tem 30 dias para pagar o ICMS, os mesmos 30 dias que o estado tem para dar o empréstimo. E tudo isso é combinado com todo mundo, inclusive com as empresas. Goiás, por exemplo, iniciou, há anos, a questão dos benefícios creditícios para o investidor, totalmente desvinculados de tributação. Não se falava em imposto, mas os valores coincidiam. São Paulo quis recusar esses créditos, porque todo mundo sabe que esses créditos são uma fachada. Isso é um complicador, porque só tem graça dar esse incentivo fiscal se o outro pagar a conta.
ConJur — E o fato de a empresa saber como funciona o sistema a torna responsável por arcar sozinha com o prejuízo, inclusive com acréscimos?
Isaías Coelho — Dolo exige intenção. Mas existem outros instrumentos para se chegar a essa participação. Tomar empréstimos muito vantajosos pode ser considerado mau uso do dinheiro público, por exemplo. A empresa não pode alegar, em sua defesa, que pagou o imposto como contrapartida. Aquilo é uma obrigação tributária. A rigor, o empréstimo é outra coisa. Se observarmos a lei das finanças públicas e o Código Penal, no que se aplica ao funcionário público, é possível punir o funcionário que entrega patrimônio público de graça.
Eurico de Santi — Esse é um limite do Direito, que o torna desacreditado. Existe um fetiche de resolver questões como essa responsabilizando a empresa, o administrador, o Estado. Não obstante o Direito se prestar a esse tipo de responsabilização, essas discussões não têm grande proveito. Demora para saber quem é o responsável e, na prática, as sanções não saem. Porque dolo, fraude e simulação decorrem de intenção, e quem consegue provar a intenção de uma pessoa jurídica ou de uma entidade que é o Estado? Quem posiciona o Estado no lugar errado é o parlamento, que criou o incentivo fiscal e é formado por vários deputados, ou o chefe do Estado? Muitas vezes o problema não é jurídico. A estratégia para o desenvolvimento nacional é devolver esse assunto para o domínio político onde ele nasceu.
ConJur — Que mudanças políticas resolveriam o problema?
Isaías Coelho — Temos um sistema em que o estado cobra o ICMS quando manda o produto para outro estado, na origem. Então, ele pode fazer de conta que cobrou e não cobrar. Como é o outro estado que vai pagar a conta do crédito concedido pelo primeiro, vale a pena fazer isso. Seria simples resolver isso simplesmente não se permitindo que se cobrasse imposto quando se vende para outro estado, como é nos Estados Unidos, na Europa. A exportação feita de um país para outro na Europa vai sem imposto. É cobrada no destino, porque o imposto não é sobre a produção, mas sobre o consumo. Ele deve ser pago onde há o consumo.
ConJur — Como isso funcionaria com a substituição tributária?
Isaías Coelho — Substituição tributária não deveria existir. É tributação na etapa de produção. Fizemos uma reforma grandíssima com a introdução do ICM, na década de 1960, exatamente para acabar com a tributação da produção e passar a tributar o consumo. E a substituição tributária está nos levando de volta para o lugar de onde saímos.
ConJur — Porque é melhor tributar o consumo que a produção?
Isaías Coelho — Porque a tributação da produção onera a exportação e torna o Brasil não competitivo. Também se estabelece um desequilíbrio de receitas brutal dentro do país, porque a receita vai ficar só nos estados onde se concentra a produção. Por isso que na Europa há o IVA, um imposto sobre o consumo, não cumulativo. Nós fomos entusiastas. Estivemos na primeira leva de introdução desse tipo de imposto, feita em 1967. Ele nos ajudou no processo de industrialização, contribuiu para o milagre econômico brasileiro dos anos 1970. E junto com a tarifa das alfândegas, que passou a ser ad valorem e não mais baseada em unidades, fizemos uma reformulação econômica que permitiu a modernização do país. Não podemos voltar a impostos que já foram abandonados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A substituição tributária é antiquada.
Eurico de Santi — Além disso, o instrumento jurídico que baseia a substituição tributária é a presunção. O Fisco tem que criar pautas de transmissão de valores para presumir quanto deve ser tributado no fim da cadeia. Na prática, o que acontece? É adotado um preço médio. Isso faz com o que o dono de um boteco, que vende uma cerveja a um preço, pague o mesmo imposto que o dono de um grande hotel, que vende muito mais caro.
Isaías Coelho — Ou seja, enquanto o boteco paga 15% de imposto, o hotel paga 1%. Isso faz com que quem compre no boteco, que é quem tem menor poder aquisitivo, pague mais imposto que quem compra no hotel.
ConJur — Substituição tributária é um dos exemplos de como o Fisco usa estratégias para ter menos trabalho. Outro é a obrigação que o contribuinte tem de calcular o próprio imposto, ficando sujeito a sanções se esse cálculo estiver errado. O brasileiro é o que mais gasta tempo, no mundo inteiro, com o cálculo de impostos, segundo estudos do Banco Mundial, o que também onera a produção. É razoável que o contribuinte tenha esse encargo?
Eurico de Santi — Estamos em um paradoxo. Vivemos na era da informação, com a internet e o Sistema Público de Escrituração Digital [Sped, que concentra em poder dos Fiscos federal e estaduais as informações fiscais e contábeis das empresas e até mesmo o faturamento, centralizando em seu serviço na internet a emissão de notas fiscais], que é um espelho da realidade. A saída física da mercadoria, que antes era o fato gerador ao propiciar para o Direito a prova e o controle da mercadoria que está vinculada a uma operação de compra e venda, hoje não é mais. Hoje, para ocorrer o fato gerador, a mercadoria não precisa sair. Basta que a empresa informe ao Sped que autoriza a operação e emita uma Danfe [Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica]. O fato gerador não é mais a saída da mercadoria, mas o diálogo do contribuinte seguido da autorização da transação. Ou seja, não existe mais problema de crédito frio ou quente, porque toda mercadoria que sai é informada no sistema. E o sistema acusa quando se está comprando muita mercadoria e ela não está saindo, ou se está saindo muita mercadoria e eu não tenho estoque.
Isaías Coelho — Se você, por exemplo, marcar uma consulta com um médico e pagar antes de ser atendido, já pagou o imposto antes mesmo de o serviço ser prestado, porque uma nota fiscal eletrônica foi emitida.
Eurico de Santi — Isso é uma coisa sutil que ainda não foi captada. Com o avanço da era da informação, a prova — e isso tem a ver com o próprio conceito de verdade — não é mais a busca de uma verdade por correspondência na relação entre realidade e o mundo do Direito, mas uma verdade por coerência dentro do sistema no qual estamos inseridos. Ou seja, a verdade mais importante é aquela declarada no sistema comunitário, e não a que acontece ou não na realidade.
ConJur — Essa é uma consequência do sistema de declaração dos tributos. Mas e quanto à obrigação do contribuinte de ter de fazer o trabalho do Fisco e ser punido se não o fizer direito?
Eurico de Santi — O problema surgiu da incapacidade do Fisco de fiscalizar as empresas. Em razão disso, criou-se essa ficção que é lançamento por homologação, em que eu delego ao contribuinte a obrigação de, além de pagar o tributo, também de informar o fato gerador e de fazer a interpretação online da legislação tributária. Quando eu delego ao contribuinte a possibilidade de interpretar a legislação, e são milhares de contribuintes, há também milhares de interpretações. Um exemplo é a questão do PIS e da Cofins no sistema não cumulativo: o que é insumo? Isso depende de cada setor. Para o de bebidas, água é um insumo. Mas para outro, como o de agropecuária, não é.
Isaías Coelho — Uma das coisas mais ridículas que eu já vi em todos esses anos é o Supremo ter sido chamado a decidir se nitrogênio é insumo ou não. Que gênio no Supremo poderia saber uma coisa dessas? Isso é um problema da absoluta artificialidade desse critério. Não deveria existir. Se você pagou, é do processo produtivo. Se é para o escritório ou para a fábrica, não interessa.
ConJur — A não cumulatividade do PIS e da Cofins foi instituída por leis sancionadas em 2002 e 2003, mas ainda há discussões administrativas e judiciais quanto a esses conceitos. O problema é o sistema ou a conceituação?
Eurico de Santi — Lembro que, quando eu era juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, o temor dos agentes fiscais era o abuso do uso de materiais de uso e consumo para criar créditos de ICMS. A ideia, que pode parecer ridícula, é que as empresas iriam deixar de pagar ICMS comprando copinhos de café ou rolos de papel higiênico. Isso gera discussões surreais. Porque o nitrogênio para 10 mil atividades diferentes significa 10 mil coisas diferentes. Há quem discuta se o óleo integra ou não o alimento, se a lixa usada na produção integra ou não o produto.
Isaías Coelho — A tributação baseada no chamado crédito físico existia em muitos lugares, mas foi abandonada no mundo todo há 60 anos. Hoje, só há no Brasil e no Haiti.
ConJur — A elisão fiscal não é crime, mas tem sido rechaçada pelo Fisco como se fosse um. Para avaliar estratégias de planejamento tributário, o Fisco tem questionado inclusive se determinadas decisões das empresas são ou não as mais adequadas para o negócio. Se não há lei contra economizar em impostos, não está havendo uma ditadura fiscal?
Eurico de Santi — Planejamento tributário é isso mesmo, pagar menos tributo com a intenção de pagar menos tributo. Mas para o Fisco, se você paga menos tributo sem a intenção de pagar menos tributo, pode. Vamos supor que eu herde uma editora, por exemplo, mas há uma briga com meus irmãos e resolvo separar a parte de edição da parte gráfica. Por acaso, essa separação implica em entrar no regime tributário do lucro presumido ou do Simples, e com isso a tributação se torna menos onerosa. Para não ser autuado, preciso provar por a + b que a operação ocorreu por causa de uma briga na família, que as pessoas não se falam mais, que houve um escândalo. Agora, se a empresa se reúne e percebe que é ineficiente ela estar no regime do lucro real e resolve separar suas atividades para trabalhar no lucro presumido, não pode, porque ela fez isso intencionalmente. A loucura está aí. Há uma espécie de tributação sobre a intenção do agente. Mas como se apura a intenção de uma pessoa jurídica? Hoje, é padrão as autuações virem com multa qualificada, para depois serem questionadas nos conselhos administrativos.
ConJur — A única intenção de uma empresa é ter lucro. Se ela é punida ao buscar o lucro mesmo quando não desobedece nenhuma lei, não está se violando seu direito constitucional de livre iniciativa?
Eurico de Santi — A própria Lei das S.A. determina que é obrigação do gestor buscar o lucro, a valorização das ações, os interesses dos acionistas. Com uma carga tributária que chega a 35% do PIB, é dever do gestor buscar a forma mais econômica de tributação.
Isaías Coelho — A demonização do planejamento tributário muitas vezes esconde uma fragilidade de uma lei mal feita.
ConJur — A regra objetiva contra o abuso, na qual o Fisco se baseia, fala em fraude e simulação, mas não há definição do que seja simulação. O conceito está sendo usado corretamente?
Eurico de Santi — “Fraude à lei”, “abuso de forma”, “simulação” e “abuso de direito” são, na verdade, válvulas de escape, trazidas com o Código Civil francês para suprir lacunas do Direito. A malandragem sempre existiu. O sujeito, para conseguir a cidadania daquele país, casa, mas é um casamento falso, apenas para obter a cidadania. No aspecto civil, é difícil diferenciar, mas em matéria tributária, são questões simples. Na verdade, é o próprio Fisco que cria uma máquina complexa. Essa complexidade combinada com a delegação ao próprio contribuinte de interpretar a lei é o incentivo jurídico para que o empresário amolde seu negócio à interpretação da legislação que ele acha adequada, coerente e ética. Acaba virando uma loteria, mas que ninguém sabe quem está ganhando, porque vemos as autuações, mas não vemos as não autuações.
ConJur — Diante dessa loteria, ter uma empresa hoje é um investimento de risco?
Isaías Coelho — A empresa, por definição, é o que chamamos de “capital de risco”. Nela se ganha mais, mas também pode-se perder mais. Então, a empresa tem que administrar riscos. O risco tributário é o que se procura minimizar, porque não é justo adicionar riscos artificiais. O Fisco deveria saber exatamente como quer que a lei seja cumprida e ter regras claras, transparentes e conhecidas antecipadamente. Antes de fazer o negócio, você deveria saber exatamente suas consequências tributárias.
ConJur — Há cerca de cinco anos, o NEF hasteava a bandeira da transparência fiscal. Como surgiu a proposta?
Isaías Coelho — Em 2009 e 2010, havia uma efervescência na discussão da reforma tributária, com o projeto Mabel [do deputado Sandro Mabel (PMDB-GO)], o projeto do Ministério da Fazenda, a PEC 233, o projeto da CNI [Confederação Nacional da Indústria], o projeto da CNC [Confederação Nacional do Comércio]. Todo mundo tinha um projeto de reforma tributária. A presidente Dilma [Rousseff (PT)] escolheu uma coisa minimalista, chamada de reforma fatiada. Nessa época, aqui no núcleo, nós nos demos conta de que não contribuiríamos muito ao fazer mais um novo projeto.
Eurico de Santi — Eu tinha escrito sobre o lançamento tributário em 1995, no meu mestrado. Mas nunca parei para pensar que, na verdade, o lançamento é a voz da legalidade. Percebi que, quando obrigo o contribuinte a fazer um auto lançamento, estou abrindo mão de dizer a legalidade, da minha obrigação de dizer qual é a interpretação sobre a lei. A legalidade que importa, prática, é essa que acontece nos autos de infração. Ou seja, para resolver a questão da complexidade tributária, tínhamos que devolver a questão para quem gera a complexidade, que é o próprio Estado. Se foi ele quem criou o PIS/Cofins não cumulativo, agora, que interprete. Quando começamos com esse movimento estratégico de retorno, a administração dizia: “Eu não posso interpretar, porque é muito complexo”. Oras, se ela não pode, como quer obrigar o contribuinte a fazer?
ConJur — A Instrução Normativa 1.396/2013, da Receita Federal, vinculou a Receita Federal às soluções de consulta que emite em resposta a questionamentos específicos do contribuinte. Isso vai ajudar a mudar esse cenário?
Isaías Coelho — A IN 1.396 fez um progresso notável. Isso vai ser reconhecido por muitos anos como um grande avanço de 2013. Porque quando uma empresa faz uma consulta, e outra empresa tem um problema igual ao dela, não é preciso fazer duas consultas. Basta usar a primeira solução, que é vinculante. A Receita tem que observar a interpretação que definiu. Veja a beleza da transparência e da responsabilidade, na medida em que a solução dada para um vai se aplicar a todos na mesma situação. Isso obriga o Fisco a fazer um trabalho melhor na hora de responder a uma consulta. O mesmo vai ocorrer com os autos de infração quando eles passarem a ser públicos.
ConJur — Isso não violaria sigilo fiscal?
Isaías Coelho — A empresa não tem o mesmo direito a intimidade que têm as pessoas físicas. Já houve mais resistência, mas hoje temos visto que outras empresas querem saber como o comportamento daquela que está sendo fiscalizada foi interpretado pelo Fisco. E os credores querem saber se aquela empresa está cometendo alguma loucura. Os concorrentes também querem saber por que a empresa não está pagando imposto. Por isso defendemos que se divulgue o quanto cada empresa paga de imposto.
ConJur — A pessoa jurídica não tem direito a sigilo fiscal?
Isaías Coelho — Ela poderia ter em casos muito específicos, como para resguardar segredos comerciais ou as margens de lucro. A ideia não é que seja informado o quanto se pagou de imposto em cada operação, mas a soma do que foi pago durante todo o mês. Mas se ela pagou ou não imposto, isso interessa. Quando se tem uma tributação pesada, como, por exemplo, nas indústrias de cigarros, bebidas e automóveis, o não pagamento de impostos desequilibra o mercado e é concorrência desleal.
Eurico de Santi — A questão central é que o sigilo oculta não quem paga, mas quem não paga. Há milhões de privilégios ocultos dados por meio de interpretações dadas na berlinda. Uma espécie de “mensalão tributário”, que funciona nas três esferas do governo. Quem tem as benesses não paga ISS, ICMS, tem regime especial, tem crédito especial de PIS/Cofins, tudo para não pagar a carga tributária que o outro paga. Uma reportagem do jornal Valor Econômico mostrou, por exemplo, que empresas beneficiadas com empréstimos do BNDES têm comparecido com financiamentos de campanha. Não que contribuir com campanhas seja errado, mas o eleitor tem direito de saber toda essa informação. Eu só sei se todos são iguais perante a lei se tenho informação de como a legalidade é aplicada para todos.
ConJur — A iniciativa do NEF já provocou alguma mudança no Fisco?
Isaías Coelho — Surgiram certas coisas, como a instrução normativa da Receita que mencionamos antes e a decisão de publicar pareceres normativos. Nós não sabemos se tivemos alguma influência nisso, porque é grande o movimento por transparência, por melhor governança. Somos um núcleo muito pequeno, mas estamos conectados com muitos atores sociais que querem mudar as coisas. Temos representatividade em diversos estados e municípios. Participamos de eventos em organizações que lutam pela melhoria na qualidade da vida política, na gestão econômica e jurídica.
Eurico de Santi — Já tivemos como financiadores do núcleo a Anfip [Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal]; o Sindicato Nacional dos Agentes da Previdência Social; o Sindifisco [Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal]; e, atualmente, do SindiReceita [Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal]. Foi um artigo do núcleo que a pesquisadora Mariana Fisher Pacheco escreveu sobre transparência, trazendo esse novo paradigma da administração, que atraiu o SindiReceita para conversar com o núcleo e entrar na pauta de discussão da atuação do sindicato em defesa dos seus sindicalizados, agentes do estado. No nosso índice de transparência fiscal, que apuramos fazendo questionamentos específicos aos estados, já percebemos um movimento dos contenciosos estaduais para a abertura, na nossa segunda aferição. São 10 critérios diferenciais e 3 bancos de dados. Perguntamos sobre autos de infração impugnados e decisões de primeira e segunda instância. A primeira aferição foi feita no fim de 2012. A segunda foi feita em 2013. Estamos tendo um retorno incrível. São Paulo está sendo um dos estados mais responsivos, ao abrir 80 mil decisões de segunda instância.
Isaías Coelho — Notamos também que os sites onde essas informações são colocadas estão melhorando, após nossa crítica sobre a falta de visibilidade dos dados.
Fonte: Revista Consultor Jurídico, 16 de março de 2014