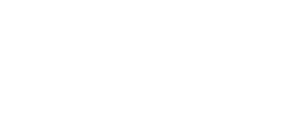Rubem Alves, em Variações Sobre o Prazer, diz que quem sonha com um banquete há de dominar a ciência das panelas e dos fogos. Diz ele: “Tornei-me um inimigo dos sonhadores ingênuos que pensavam que bastaria que os homens mudassem suas ideias para que o mundo também mudasse. Moquecas não se fazem só com ideias e intenções. Quem quer mudar o mundo tem de ser um especialista no uso do fogo”.
Pois a coluna de hoje se encaixa no dizer de Alves e na discussão provocada na semana passada sobre o julgado do TST (clique aquiaqui para ler). A pedidos, calço as sandálias da humildade para dizer que efetivamente minha análise sobre o julgado do TST está… correta. Não foi o texto mais lido, mas “enquanto” coluna, ficou no topo do ranking semanal. Volto, pois, à discussão, dizendo, em face dos comentários dos leitores que é de uma profunda ingenuidade:
— querer defender um cêntimo de um acórdão eivado de uma coisa chamada ativismo-decisionismo.
— querer salvar uma floresta contaminada olhando uma árvore que, pretensamente (e só pretensamente) não foi conspurcada pelos fungos epistêmicos.
— acreditar na bondade dos bons, pensando que, via “mística da proporcionalidade” (na verdade, a Katchanga Real contemporânea), é possível admitir que, genericamente, um tribunal possa corrigir decisões judiciais sem que os pressupostos de admissão recursal estejam presentes.
Assim, não mudaremos o Direito se:
— não nos desvestirmos de nossos corporativismos, de nossos compromissos estamentais, conscientes ou inconscientes. Não mudaremos o Direito se, em vez de atacar a matéria, contesta-se-a porque o autor não é simpático aos olhos do crítico.
— não dominarmos “o fogo”, isto é, as condições de possibilidade em que um discursos jurídico é proferido. E o discurso do TST tem um lugar não muito difícil de entender. Só não entende quem não quer (ou não consegue entender).
Retomando o acórdão do TST
Trata-se de um acórdão que coloca à lume a dura realidade do ativismo de terrae brasilis. Portanto, não importa os pormenores espiolhados que alguns comentaristas tentaram fazer para justificar o injustificável. De toda sorte, a pluralidade da ConJur resolveu a discussão, porque um grupo de comentaristas (FNeto, HP Vilaça, Luis Henrique Braga Madalena, Marcelo Francisco, Leandro Rodrigues, Bdjp, Osvaldo Guedes, entre outros) afastou os fantasmas colocados pela minoria alinhada com o ativismo Te-eSse-Te-niano. Dando-se o nome que se queira dar, nada muda o caráter ativista desse tipo de decisão (algo como a frase de encerramento do romance O Nome da Rosa: “stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus”).
Para brincar mais um pouco: a malsinada decisão do TST foi baseada na alínea “c” do art. 896 da CLT, pela qual cabe Recurso de Revista das decisões dos TRTs que que forem “proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal”. Digamos em voz alta: “afronta direta e… literal da CF”. Bingo! Pois a única coisa que não se viu foi isso: a tal afronta literal…!
Mais: o item “prequestionamento” consta apenas na ementa. No acórdão em si não há nada mais sobre a matéria ter sido ventilada no acórdão do TRT. E, claro, não se pode ler um julgado pela ementa como também não se lê um livro pela orelha. E como há críticos literários por aí que leem só orelhas… e juristas que só leem (e tiram as conclusões apenas a partir das) ementas — pois que desconhecem a diferença ontológica, a concretude indisfarçável e incontornável que medeia tanto o texto e a norma quanto a ementa e o acórdão de um julgado. Aliás, ao contrário dos comentaristas que disseram, levianamente, que eu não teria lido o acórdão do TST, parece que eles não leram… o acórdão original do TRT. Bingo de novo. O acórdão do TRT nada fala sobre o tal dispositivo da CF. Engraçado é que o TST menciona o artigo 5º, V, CF, apenas porque a reclamada o invocou. Mas não foi nada discutido na origem… O que o TST faz é afirmar o que ele considera “injusto” e desproporcional: o valor arbitrado. Mas, atenção. Sejamos honestos intelectualmente: a discussão sobre o valor é absolutamente secundária, dependente da principal, que fora rechaçada por ele mesmo, o TST. Simplíssimo, pois. Aqui, o TST esqueceu que a doutrina trabalhista diz que “Na análise do recurso de revista não mais se busca declarar a justiça ou injustiça da decisão” (v.g., Aloysio Correa da Veiga). E veja-se o que diz o ministro do TST Ives Gandra Martins Filho sobre a alínea “c” do art. 896 da CLT, no nosso Comentários a Constituição do Brasil (Canotilho, Mendes, Sarlet e Streck – Saraiva, Almedina, 2013).
Note-se, ademais, que o TST ao citar os “precedentes” (ementas) para fundamentar a afronta direta e literal (atenção aos que não leram: a decisão do TST fala apenas em “violação“) à Constituição e a desproporcionalidade, citou casos em que o próprio TST afastou a ocorrência de dano moral nas “revistas impessoais“. Incrível, não é?
E, atenção de novo: este-tópico-já-estava-superado, pois o recurso de revista não foi conhecido neste ponto. Isto é fato! Esse “(f)ato falho” confirma que o motivo da diminuição do montante indenizatório não é a desproporcionalidade do valor ou a afronta direta e literal do artigo 5º da CF, mas, sim, a própria jurisprudência do TST que não entende ser dano moral a “revista impessoal“.
E, atenção de novo: as ementas em momento algum falam em reduzir o valor da indenização por que o TST entende que não-configura-dano-moral-a-revista-impessoal…! Mais um golaço meu. Senso Incomum F.C. 3×0 (o terceiro gol foi um passe de trivela do comentarista FNeto; e, jogando fora de casa, cada gol vale o dobro!).
Mas não estou satisfeito. Quero aumentar a goleada. Senso Incomum F.C é terrível. É que o artigo 5º, V, CF, prevê que: “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Ora, não há na decisão do TRT afronta “direta e literal” a esse dispositivo, pois a proporcionalidade referida no artigo 5º, V, CF é da “resposta” ao “agravo” e não da “indenização”. Acaciano isso. A decisão do TST não parece fundamentar no artigo 5º, V, CF a redução (essa, sim, desproporcional…!) do valor da indenização para R$ 1 mil, embora cite esse dispositivo. A decisão parece muito mais fundamentar a redução na sua jurisprudência que admite as tais “revistas impessoais”. É como se dissesse: “reduzo porque entendo que sequer há dano moral”. Por uma questão de lógica, a redução deveria ser… para zero reais. Senso Incomum F.C. 4×0!
O que também é engraçado é que nenhum dos defensores do julgado do TST quis falar sobre a hipótese de o TST passar a fazer o contrário: quando a indenização é considerada pequena, ele, o TST, pode aumentar o valor “desproporcional”, com base no mesmo (mágico) artigo 5º, inciso V, da CF (alguém já leu amiúde esse dispositivo, a propósito?). Que tal?
A propósito, o STJ tem diversos acórdãos em que reduz o valor do dano moral sem recorrer à CF dizendo apenas que o valor é desproporcional. Pois é. Terrae brasilis é fogo. Difícil mesmo é entender a relação do artigo 5, V, com o valor do dano… Quem quiser aprofundar isso, leia o livro Jurisdição Constitucional de Georges Abboud (RT, 2012, pp. 98 e 99). O autor mostra um bom exemplo desse ativismo-decisionismo no STF (decisão da ministra Ellen Gracie no AIn. 374.011 — Informativo STF/365), que dispensou o preenchimento do requisito do prequestionamento de um recurso extraordinário, sob o fundamento de dar efetividade ao posicionamento do STF sobre questão constitucional. No voto, o RE foi “equiparado” a um remédio de controle abstrato de constitucionalidade; assim, dispensou-se o prequestionamento para assegurar posicionamento do STF sobre matéria. Eis aí uma decisão discricionária violadora de texto expresso da Constituição Federal. Quando a Constituição estabelece o prequestionamento (rectius: “causas decididas”) como requisito para a admissão do recurso extraordinário (CF, artigo 102, III), não pode o STF dispensá-lo em nenhuma hipótese, ainda que seja para assegurar posicionamento consolidado pela Corte. Se prosperar esse posicionamento, o que impedirá que o STF desconsidere outros institutos e garantias constitucionais pétreas como a coisa julgada, o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido, a fim de assegurar seu posicionamento? Afinal, os fundamentos para tanto seriam os mesmos, vale dizer, são casos em que a decisão do Supremo contraria texto expresso da Constituição, complementa Abboud. E eu digo: Bingo! And I rest my case!
Ainda, para finalizar, aproveitando mais um lançamento em profundidade de FNeto, meio-campista do Senso Incomum F.C., vejam a dura face do ativismo (quem quiser, pode chamar o ativismo de “bem-aventurança decisional”, que nada, absolutamente nada, mudará): “A edição de súmulas pelos tribunais afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição da República? Vejamos a resposta da 1ª Turma do TST, sob relatoria do ministro Lelio Bentes Corrêa, no julgamento do Ag-AI-RR-57400-82.2011.5.17.0132. Tratava-se de Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. Ufa..! Assim se pronunciou a 1ª Turma: “Cumpre salientar, por fim, que a edição de súmulas por esta Corte uniformizadora pressupõe a análise exaustiva do tema, à luz de toda a legislação pertinente, o que afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de violação de dispositivo de lei ou da Constituição da República, bem assim o confronto da decisão com arestos supostamente divergentes, porquanto superados pela jurisprudência dominante neste Tribunal Superior”. Em suma, “todo o poder (d)às súmulas”…! A inautêntica (no sentido gadameriano) “holding” que se extrai da afirmação transcrita é que inexiste possibilidade de inconstitucionalidade-ilegalidade se existe súmula em sentido contrário ao alegado pela parte. Quer exemplo mais claro de sequestro da temporalidade, da faticidade e da complexidade inerentes ao fenômeno jurídico? É como se as súmulas fossem enunciados plenipotenciários, que abarcassem todas as hipóteses de aplicação. Fica a pergunta: não poderia o próprio teor da súmula implicar uma inconstitucionalidade-ilegalidade?” FNeto: obrigado, parceiro! Mais um gol na prorrogação. E… bingo de novo!
Numa palavra — como o ativismo “bate” na AP 470
A dura face do ativismo aparece sob várias máscaras. Por vezes aparece do lado do “bem”; por vezes do lado do “mal”. Esse é o problema. Depende do lado em que o utente está. Por isso o ativismo sempre é ruim para a democracia. Um dos modos de o ativismo aparecer é o que foi transcrito acima. Mas ele é facilmente detectado quando o julgador diz que está decidindo de um determinado modo porque-é-o-seu-“sentimento”, como se sentença viesse mesmo de “sentire”. A questão é: por que temos de depender de atitudes ativistas?
Com efeito, no julgamento da AP 470 isso apareceu muitas e muitas vezes (em vários votos, sob diversos epítetos). Agora, no finalzinho, quando da decisão acerca da existência do crime de quadrilha, o ministro Roberto Barroso falou repetidas vezes que assim julgava porque esse era o seu “sentimento” (já o fizera em outros momentos no STF). Para a maioria das pessoas isso pode ter passado despercebido. Mas a um hermeneuta isso bate fundo. A pergunta é: a Justiça pode depender do sentimento pessoal do julgador? Para o “bem” e para o “mal”? Tenho batido nessa tecla há mais de 20 anos (por isso, ninguém pode se surpreender com esta coluna — minha crítica é feita de forma lhana, acadêmica e respeitosa). Afinal, a Justiça (ou seja lá o nome que se dê a uma decisão conforme o Direito) pode depender de uma delegação à consciência (subjetividade) do(s) julgador(es)? Não. Definitivamente, não!
E posso demonstrar isso facilmente, a partir de duas decisões do mesmo ministro Barroso. No caso Donadon, visivelmente ele errou, ao emitir a liminar no MS 32.326, utilizando argumentos metajurídicos, que indubitavelmente são a confirmação de que o julgador coloca a sua subjetividade acima da estrutura do ordenamento (e não sou apenas eu quem diz que a decisão foi equivocada; veja-se, por exemplo, a crítica a ele feita pelo ministro Gilmar Mendes). Portanto, também ali a decisão, por conter argumentos metajurídicos, pode ser qualificada como subjetiva (ou segundo o seu sentimento). Além disso, no caso Donadon, o ministro Barroso disse que o julgador não deve se contaminar com o que pensa a opinião pública; entretanto, no caso da AP 470, disse que o juiz deve dialogar com a sociedade…Afinal, ele deve ou não deve ouvir a opinião pública?
Sigo. Recentemente, no caso do julgamento da AP 470 (ao apreciar a “questão” da quadrilha), não sei se errou ou acertou. Nem importa na discussão. Vamos, ad argumentandum tantum, dizer que acertou, o que apenas demonstra o acerto de minha tese. Decidir conforme o sentimento, como se sentença viesse de sentire (como isso é ainda repetido por aí) é sempre um jogo perigoso, porque não depende de um a priori compartilhado ou de uma estrutura discursiva que respeite a tradição hermeneuticamente reconstruída. Depender do “sentir individual” é dar um passo para trás, filosoficamente falando. Trata-se de um behaviorismo interpretativo. Decidir conforme o sentir pessoal é ignorar os paradigmas filosóficos e os filósofos responsáveis pelos câmbios e giros paradigmáticos, como Wittgenstein, Heidegger, Gadamer, Habermas, Müller, Dworkin, Luhmann, para citar apenas estes (no Brasil — e como não sofro da síndrome de caramuru — lembro que inúmeros professores trabalham isso: Dierle Nunes, Marcelo Cattoni, Leonel Rocha, Warat, Tércio, entre outros).
Para entender melhor os riscos que se corre ao se julgar com base no sentire, os juízes alemães alinhados ao nazismo também decidiam pelo sentir, seu próprio ou de acordo com o “sentimento do povo alemão” — e, claro, tal sentimento só existiria quando estivesse alinhado às intenções da doutrina nazi-fascista. Por exemplo, no julgamento de Hitler pela participação do Putsch de Munique, em 1923, embora: a) a sentença mínima fosse de cinco anos e a máxima fosse ilimitada; b) Hitler estivesse em liberdade condicional — o que impedia a suspensão condicional da pena; c) e fosse estrangeiro (de nacionalidade austríaca — o que ensejaria deportação), foi sentenciado a uma pena de somente seis meses de prisão, a ser cumprida em um luxuoso castelo. A corte recusou a deportação sob a alegação de que “no caso de um homem como Hitler, de ideais e sentimentos tão alemães, a opinião desta corte é que os desígnios e propósitos da lei não se aplicam”. Enquanto isso, os judeus eram punidos implacavelmente. Os magistrados judeus e os identificados como sociais-democratas foram afastados e depois demitidos. E os advogados judeus, proibidos de exercer sua profissão, foram transformados em “consultores jurídicos”, podendo apenas aconselhar os judeus. Leis flagrantemente inconstitucionais eram validadas sob as togas do Judiciário que decidia com base não na normatividade, mas no sentire. Veja-se: não estou comparando um caso e outro. Apenas quero falar do alcance da questão paradigmática que exsurge de decisões subjetivas. Ainda hoje é difícil convencer os tribunais de terrae brasilis a cumprirem, por exemplo, a “literalidade” do art. 212 do CPP…
No Império, os juízes também decidiam conforme o seu sentir. Como a maioria era escravocrata, não aplicavam nem mesmo a (parca) legalidade, como por exemplo, a lei que proibia o tráfico de escravos de 7 de novembro de 1831 (leiam a luta do rábula Luis Gama para fazer cumpri-la) e a lei que limitava o castigo a escravos em 50 chibatadas por dia. Entre as leis e a “consciência”, os juízes e tribunais do Império ficavam, no mais das vezes, com a segunda. Claro que no Império isso era explicável: o sujeito da modernidade ainda querendo se impor (filosoficamente falando). Só que, hoje, no século XXI, depois do linguistic turn e do ontologic turn…não parece adequado insistir em teses protagonistas-subjetivistas.
Sendo mais claro, o que tenho deixado assentado é que decidir não é o mesmo que escolher. Pelo menos não pode ser. Se existe uma estrutura jurídica (leis, Constituição etc), uma decisão deve estar de acordo com esse arcabouço e não em conformidade com sentimentos pessoais. Pode até isso ser contestado, dizendo-se que o ministro (e isso acontece com parcela considerável da comunidade jurídica) não quis dizer isso e que o sentimento não deve ser interpretado desse modo. Mas, em resposta, afirmo que a minha crítica não se restringe ao espiolhamento do discurso e por eu ter escolhido a dedo a palavra “sentimento” ou “consciência”. É do conjunto da obra desse e de tantos outros juristas que se pode (re)tirar essa convicção. Simbolicamente, isso representa o autoritarismo da sociedade brasileira, isto é, até mesmo uma decisão judicial é fruto de um pensar individual, com o que a sociedade sempre estará dependente de uma coisa chamada “solipsismo”.
Se cada julgador tem critérios próprios e pessoais, se cada um julga conforme o seu sentir, não podemos nos admirar que o sistema jurídico seja um conjunto de decisões fragmentárias e fragmentadas. Por isso, as súmulas vinculantes são um remédio que o sistema se auto inoculou, porque ele mesmo não aguentou a sua fragmentação. Remédio amargo à democracia e à independência funcional das instâncias ditas “inferiores”.
Insisto nisso de há muito e posso pecar pela minha chatice epistêmica: se, por exemplo, tivermos que discutir se o aborto (pego esse exemplo pela sua complexidade) deve ser liberado, sendo, na hipótese, hipoteticamente posta na mão do Supremo Tribunal Federal essa tarefa, teremos que depender das convicções morais (subjetivas) de cada julgador? Ou, quem sabe, devamos depender daquilo que o direito, na sua reconstrução institucional, pode nos dizer? E assim por diante. Ah: e agora vem o caso dos poupadores. Devemos depender do Direito ou do sentimento que cada julgador tem em relação ao caso? E no caso do mensalão mineiro: devemos esperar um resultado jurídico ou decorrente de sentire? Eis o busílis da questão. E se o sentimento pessoal do julgador não coincidir com o direito? Tenho que acreditar que, em-si-mesmo, o julgador é “do bem” e que tem “bons sentimentos”?
Simplificando, você pode perguntar: embargos infringentes, crime de quadrilha, dolo no estelionato, conceito de lavagem de dinheiro… dependem de que(m)? Se o Direito, enquanto estrutura discursiva, não forjou uma tradição para dizer o que cada um desses institutos significa, então fracassamos. Sim, fracassamos pela simples razão de que o direito e seus institutos são, melancolicamente, aquilo que cada julgador diz (e sente) que é. E, em uma sociedade de origem estamental, a malta dependerá do que lhe dirão os setores estamentais. As vezes até coincidirá a resposta… Mas, convenhamos: um relógio estragado também acerta as horas duas vezes por dia.
Logo, se isso é assim, o direito é um simples jogo de poder. Então o pessimismo de Kelsen tinha razão de ser, quando disse que a aplicação do direito era um ato de vontade (e eu sempre acrescentei: de poder, a velha Wille zur Macht, de Nietzsche). Por isso é que o TST acolhe o recurso quando bem entende. Por isso, nos tribunais pátrios continuam valendo as máximas da “busca da verdade real”, “da livre convicção”, “do livre convencimento”, “da decisão conforme a consciência”, “da decisão segundo o sentimento”. E poucos, poucos mesmo, se perguntam: mas se isso é assim, para que estudar? Para que serve a doutrina? Pois é!
Revista Consultor Jurídico, 6 de março de 2014